e morreu a 28dez2018...
***
“Todos os seres vivos sobre este planeta, pessoas e animais, aves, répteis, larvas e peixes, na realidade todos nós estamos bem próximos uns dos outros, apesar de todas as muitas diferenças entre nós: pois quase todos nós temos olhos para ver formas , movimentos e cores, e quase todos nós ouvimos vozes e ecos, ou pelo menos sentimos a passagem da luz e da escuridão através da nossa pele. E todos nós captamos e classificamos, sem parar, cheiros, gostos e sensações.
Isso e mais: todos nós sem excepção nos assustamos às vezes e até mesmo ficamos apavorados, e às vezes todos ficamos cansados, ou com fome, e cada um de nós gosta de certas coisas e detesta outras, que nos inspiram temor ou aversão. Além disso, todos nós sem excepção somos sensíveis ao extremo. E todos nós, pessoas répteis insectos e peixes, todos nós dormimos e acordamos, todos nós nos empenhamos muito para que fique tudo bem para nós, não muito quente nem frio, todos nós sem excepção tentamos a maior parte do tempo nos preservar e nos guardar de tudo o que corta, morde ou fura. Pois cada um de nós pode ser amassado com facilidade.”
https://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/amos-oz/?fbclid=IwAR08GPyhOJie2N4nS0ll1YZKJFW2UdaFcs0RKoxe3_us33XPcsyHcL_DkNs
***
Amos Oz morreu esta sexta-feira, vítima de cancro. Tinha 79 anos. Em outubro último, o escritor israelita admitiu: "Não estou bem, mas estou a lutar".

Morreu o escritor Amos Oz. O autor israelita, co-fundador do movimento pacifista Paz Agora, tinha 79 anos e morreu na sequência de um cancro. A notícia foi avançada por uma das filhas do escritor que, através do Twitter, anunciou que o pai morreu “em paz, depois de uma breve luta contra o cancro”.
Numa entrevista publicada em outubro deste ano, Amos Oz recusou comentar os rumores à cerca do seu débil estado de saúde. À data, apenas disse à publicação Haaretz: “Não estou bem, mas estou a lutar”.
Autor de uma vasta obra traduzida em mais de 30 línguas, incluindo romances e ensaios, Amos Oz nasceu em Jerusalém e atualmente vivia em Telavive. Foi professor de Literatura na Universidade Ben-Gurion e em vida dedicou-se à militância em prol da paz entre palestinianos e israelitas. Desde 1991 que era membro da Academia da Língua Hebraica.
Amos Oz foi várias vezes apontado como candidato ao Nobel da Literatura, mas nunca chegou a ganhar o galardão. É, ainda assim, um dos mais importantes escritores israelitas da atualidade, juntamente com David Grossman.
Em setembro foi editada em Portugal, pelas Publicações D. Quixote, a obra Caros Fanáticos, um conjunto de três ensaios sobre “fé, fanatismo e convivência no século XXI”, escritos a partir de “um sentido de urgência e preocupação e na crença de que um futuro melhor ainda é possível”, lê-se na sinopse daquele que é o último livro publicado do escritor. O livro surge dez anos volvidos da publicação de Contra o Fanatismo.
O traço comum [dos três ensaios] é a análise do fanatismo combinada com uma apologia à moderação. Independentemente do tipo de fé e do contexto em que o fanatismo – religioso, político ou cultural – se expressa, ele é, para Amos Oz, o verdadeiro inimigo do presente. Juntamente com este tema, Oz aborda a atual situação no Médio Oriente e o conflito israelo- árabe, apresentando com ousadia o seu argumento da existência de dois estados como solução para o que ele chama «a questão de vida ou de morte para o Estado de Israel»”, lê-se na sinopse de Caros Fanáticos.
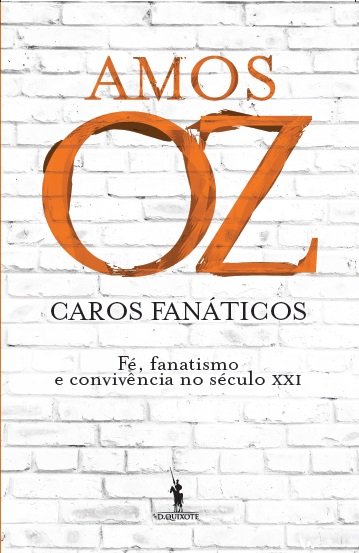
O livro foi editado em Portugal em setembro deste ano
O prémio russo junta-se a uma lista de várias distinções, entre as quais os prémios Femina (1988), o da Paz dos Livreiros Alemães (1992), assim como o Prémio Israel de Literatura (1998), o Goethe (2005), o Grinzane Cavour (2007) e o Príncipe das Astúrias de Letras (2007). Em 2013 recebeu o Prémio Franz Kafka e, em 2015, o Pak Kyongni, da Coreia do Sul.
Em Portugal estão traduzidos os seus livros A Caixa Negra, Conhecer Uma Mulher, A Terceira Condição, Não Chames Noite à Noite, Uma Pantera na Cave, O Meu Michael, O Mesmo Mar, Uma História de Amor e Trevas, Cenas da Vida de Aldeia, Entre Amigos e Judas, além de Caros Fanáticos.
Em 2015, Natalie Portman realizou um filme baseado no livro de memórias do escritor — “Uma História de Amor e Trevas” foi exibido em ante-estreia em Portugal em 2016 no Judaica, festival de cinema e cultura judaica. O filme conta com realização e argumento de Portman, que também protagoniza a longa-metragem ao lado dos atores Makram Khoury, Shira Haas e Mor Cohen. O filme dramático narra parte da vida do escritor, ao mesmo tempo que acompanha a história política do seu país.
https://www.youtube.com/watch?v=5e55Or1RZ_E
https://observador.pt/2018/12/28/morreu-o-escritor-israelita-amos-oz/?fbclid=IwAR3FY3iAF0R4KwT_Y6KYrKegiKmEU_2j5cPoQUHnf-CJDQcsMaDKn7l77xc
***
Via Maria Elisa Ribeiro
Por que sonhamos? Por que fazemos sexo? Por que fantasiamos? Pelo mesmo motivo que precisamos de histórias. Amós Oz volta ao tempo das cavernas para nos emocionar com uma declaração de amor pela necessidade humana de narrativas. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser lembrado dos novos vídeos todas as segundas e quintas-feiras http://bit.ly/FronteirasYouTube Ian McEwan, Mario Vargas Llosa, Orhan Pamuk, David Grossman. Os grandes nomes da literatura contemporânea estão no Fronteiras.com. Assista aos vídeos exclusivos www.fronteiras.com/videos/categorias/arte Escritor israelense, Oz é ativista político e um dos mais renomados e premiados intelectuais da atualidade. É autor de uma extensa obra literária formada por romances, ensaios e críticas e publicada em 40 países, sendo um dos escritores israelenses mais traduzidos no mundo. Fundador e principal representante do Movimento Paz Agora, defende a solução de dois Estados para o conflito entre Israel e Palestina.
https://www.youtube.com/watch?v=fgjKRorATPI&feature=share
***
Amos Oz, 1939-2018: “Penso na morte todos os dias. Penso nela porque não está assim tão longe”

Tem mais nove anos do que o Estado de Israel e testemunhou a sua fundação. Combateu nas guerras de 1967 e de 1973. Ativista convicto a favor da paz, Amos Oz é Prémio Goethe, Kafka e Príncipe das Astúrias. E é o homem que, todas as manhãs, se senta a escrever . No dia em que soube da morte do escritor, o Expresso republica esta entrevista, originalmente publicada em novembro de 2013
Na sua infância, Telavive era uma "fantasia exótica", longínqua, quase mágica. Fazia parte do "mundinteiro", esse mundo remoto situado além das colinas e contido na imensa biblioteca do pai, que cedo Amos Oz começou a desbravar. A ele, um miúdo de Jerusalém, abismavam-no as praias e a mera hipótese de existirem judeus que sabiam nadar, enquanto na sua Jerusalém natal os pais originários de Odessa e de Rovno (vila polaca, hoje ucraniana) tentavam criar, com o material da saudade e do amor não correspondido, "um pequeno enclave" europeu. Ali, nesse caldo, em 1939, nasceu Amos Klausner, nove anos antes da formação do Estado de Israel. Mudaria o apelido para Oz - "força" - por rebelião contra o pai e passaria 30 anos no kibbutz Hulda, onde casou e teve três filhos, antes de ir viver para Arad, às portas do deserto do Neguev. Agora, aos 74 anos, instalou-se na Telavive estrangeira e livre, banhada pelo Mediterrâneo, que diariamente lhe confirma o seu contraste com a pesada Jerusalém, para onde não voltou. O nome maior da literatura israelita vive a norte da cidade, num pacato bairro residencial, ironicamente perto da Rua Klausner, em homenagem ao seu tio académico e criador de muitas palavras do hebraico contemporâneo, e próximo da Avenida Agnon, o Prémio Nobel que Amos Oz conheceu e a quem deu a ler os seus primeiros contos. No 12º andar que habita, o império é o dos livros, que forram as paredes, do gato "Freddy" e dos "fantasmas" que rodeiam as horas de todo o escritor.
Mudou-se recentemente para esta cidade, que na sua infância, quando era um miúdo de Jerusalém, lhe parecia longínqua, estrangeira. É assim hoje?
Adoro Telavive, mas continua a ser muito diferente de Jerusalém, apesar de estarem a 70 quilómetros de distância. Jerusalém é uma cidade de extremismos, de tensões, com um peso e uma gravidade que Telavive não possui. Em Jerusalém sentimos o melhor e o pior deste país. Telavive é aberta, livre. Vivem aqui judeus de 136 nacionalidades.
Na sua vida, Telavive também se relaciona com o melhor e com o pior.
Será sempre a cidade onde a minha mãe morreu, e não há um dia em que não pense nisso. Mas é também onde vivem os meus filhos e netos. Foi muito fácil adaptar-me a ela. Levanto-me às 5h, dou uma volta, às 6h sento-me neste quarto com um café e começo a perguntar: "Como seria se...?" E se tiver sorte começo a escrever.

Jason Kempin/ Getty Images
No kibbutz, quando comecei a escrever regularmente, sentava-me à secretária e por vezes só escrevia algumas frases. Depois ia para a sala de jantar; à minha esquerda havia um homem que tinha ordenhado dez vacas e à minha direita outro que tinha passado a manhã a recolher ovos. Eu sentia-me culpado, porque o meu trabalho apenas consistira em rabiscar umas palavras e apagar outras. Então passei a encará-lo como se tivesse uma loja: de manhã, tenho de abrir as portas e esperar. Foi uma forma de lidar com o sentimento de culpa.
Como foi começar a escrever no kibbutz? Sei que gerou uma grande discussão.
No início, escrevia depois das horas de trabalho. Quando saiu o meu primeiro livro, dirigi-me ao comité do kibbutz e pedi um dia por semana para escrever. Houve um grande debate, as pessoas diziam: "Isto abre um precedente", ou: "Se toda a gente for artista, quem vai ordenhar as vacas?". Deram-me um dia. Publiquei mais dois livros, tive boas críticas, e isso trouxe algum retorno económico para a comunidade. Então deram-me dois dias e depois três. Foi o máximo que consegui: três dias para a minha escrita.
Quando percebeu que queria ser escritor?
Muito cedo. Mesmo quando não tinha a certeza de querer sê-lo, passava o tempo a contar histórias. Aos 5 anos já inventava pequenas histórias de detetives e de ficção científica para os meus amigos e para impressionar as raparigas. Eu não era um rapaz bonito, não era bom nos desportos nem era brilhante na escola. A única forma de impressioná-las era a contar histórias, o que faço ainda hoje.
As suas motivações para escrever devem ter mudado com os anos.
Tornei-me cada vez mais curioso sobre a natureza humana, sobre as pessoas. Penso que a minha urgência de escrever tem a ver, sobretudo, com a curiosidade. A curiosidade é uma virtude moral. Uma pessoa curiosa é melhor pessoa, melhor vizinho, melhor pai, até melhor amante do que alguém que o não é.
Em "Uma História de Amor e Trevas" disse ter encontrado o seu lugar na escrita ao descobrir Sherwood Anderson. O que é que ele lhe revelou?
Eu queria ser escritor, mas não sabia nada sobre o mundo. Vivia numa comunidade pequeníssima, onde nunca acontecia nada de excitante. Acreditava estar num círculo vicioso: não posso escrever antes de passar um longo tempo em Nova Iorque, Londres ou Paris, mas não posso ir para Nova Iorque, Londres ou Paris se não me tornar um escritor famoso... Não havia saída. Então li "Winesburg, Ohio", de Sherwood Anderson - teria uns 17 anos -, e ele ajudou-me a perceber que, para um escritor, o centro do universo é onde vivemos. Não é preciso conhecer o mundo, é preciso olhar para as pessoas que nos rodeiam.

Ulf Andersen/ Getty Images
O mundo está cheio de histórias. Ainda hoje, se tiver de esperar numa clínica ou num aeroporto, não leio os tabloides, ouço as conversas dos outros. Espio os estranhos. Observo as expressões, as roupas, os sapatos - os sapatos contam sempre muitas histórias. Tento adivinhar quem são, de onde vêm, que tipo de vida vivem...
É um velho hábito seu.
Em miúdo, os meus pais levavam-me aos cafés de Jerusalém e prometiam--me um gelado se eu ficasse calado enquanto eles conversavam com os amigos. E aquelas conversas duravam horas! Eu tinha de fazer qualquer coisa. Então comecei a ouvir e a espiar as outras pessoas do café, tentando adivinhar a relação entre elas. Ainda o faço e recomendo-o a todos, não apenas a escritores. É umpassatempo extraordinário e recebe-se um gelado no fim.
Diz que escreve acima de tudo sobre famílias. E ultimamente tem dito que escreve sobre as infelizes. Porquê?
Bom, fascinam-me mais as pessoas infelizes, porque nas felizes não há uma história.Uma ponte bem construída e bem desenhada só permite dizer "bravo" ao arquiteto e ao construtor. Se a ponte colapsa, se cai, a narrativa acontece.
Mas o que é que o fascina nas famílias?
A família é a instituição mais misteriosa e paradoxal do mundo. A mais cómica, a mais trágica e a mais absurda. É algo estranho, porque a maioria de nós não é monógama por natureza, e mesmo assim esta instituição parece persistir de geração em geração em diferentes religiões, tradições e eras históricas. Houve quem propusesse substitutos. Jesus disse: "Sigam-me e esqueçam as vossas famílias." Outros pensaram numa coletividade onde as crianças não soubessem quem eram os pais biológicos. No entanto, a instituição da família continuou a existir depois de Jesus e de Platão. Existe no Irão dos ayatollahs e na pós-moderna Greenwich Village de Nova Iorque. Como é possível? É isto que me fascina e é sobre isto que escrevo. O que somos decide-se aí. A família está cheia de tensões, de conflitos - entre homem e mulher, entre pais e filhos, em todas as direções -, mas pare- ce haver algo que a mantém unida. Tenho estudado isto toda a minha vida e ainda não tenho uma resposta. Só sei que não está apenas no sangue.
Porque voltou às histórias curtas?
Depois de alguns romances, senti-me atraído pela forma compacta e minimalista. Era como um homem que se habituou a viajar com muita bagagem e de repente tem de viajar com uma mala de mão. A narrativa curta pode ser mais difícil do que o romance, porque obriga a criar um mundo numa gota de água. Foi o que fez em "Between Friends", o seu último livro. Nele regressa ao cenário do kibbutz, há 48 anos abordado em "Where the Jackals Howls".
Porquê?
Passaram 30 anos desde que a minha família e eu deixámos o kibbutz. Mas ele nunca me deixou. Uma vez por semana volta a mim nos sonhos. Senti que se isso ainda ocupa os meus sonhos é porque não contei todas as histórias que tenho na cabeça sobre o kibbutz. E beneficio da perspetiva do tempo: estas histórias estão situadas nos anos 50, há 60 anos.
E o que vê hoje dessa época?
Vejo a única experiência revolucionária do século XX que não derramou sangue. No kibbutz não havia sequer uma esquadra de polícia. A única força policial era o falatório local, muito eficiente, por sinal. Por outro lado, os fundadores do kibbutz acreditavam que podiam mudar a natureza humana num ápice e que, se todos vivessem em casas iguais, vestissem roupas iguais, comessem a mesma comida e partilhassem tudo, o egoísmo e a mesquinhez iriam desaparecer. Foi um pensamento ingénuo: a natureza humana não é mutável. O que é que mudou na forma de fazer amor desde o tempo do rei Salomão até aos nossos dias? Talvez apenas o cigarro a seguir.

Em 2007, quando recebeu o Prémio Príncipe das Astúrias
MIGUEL RIOPA/ Getty Images
É um livro sobre a solidão numa sociedade em que todos sabem tudo sobre os outros, numa sociedade que teve a ambição de eliminar a solidão. Mas a solidão existe. Num kibbutz, onde se esbatem as diferenças entre, por exemplo, raparigas pobres e ricas, as diferenças entre bonitas e feias tornam-se ainda mais dolorosas. O que é que uma rapariga feia faz? Vai para o secretariado do kibbutz dizer: "Eu também quero ser bonita"? Uma sociedade pode ultrapassar a injustiça social, mas não os abismos da injustiça existencial.
E o Amos escreveu sobre isso.
Escrevi sobre isso. Eu escrevo sobre pessoas sozinhas, marginais, sobre pessoas que, ao tentarem estabelecer contacto humano, são quase bem-sucedidas, como aquele mural em que as mãos estão quase a tocar-se mas não se tocam. Nas histórias de "Between Friends", os dedos estão quase a tocar-se. Procuram contacto, intimidade, mas não o encontram totalmente.
Há no livro uma história que parece a sua: um rapaz de fora a tentar encontrar o seu lugar naquela microssociedade. Como é ser-se um outsider?
Eu era-o por escolha própria. Tinha 14 anos quando deixei a minha casa e fui viver para o kibutz Hulda. Mudei o estilo de vida, os hábitos, a alimentação. Até mudei de apelido. Rebelei-me contra o meu pai, decidi ser tudo o que ele não era e não ser nada do que ele era. Ele era um intelectual, eu decidi conduzir um trator. Ele era um homem de cidade, eu fui viver para um kibutz. Ele era de direita, eu tornei-me socialista. Ele era um homem baixo, eu decidi ser alto... mas isso não consegui. Tal metamorfose não se faz sem violência. Foi como uma conversão, uma rebelião e uma forte luta contra mim próprio. Por exemplo, quis desistir da ambição de escrever e não consegui. Escrevia à noite, quando ninguém via. Após dois ou três anos, tornei-me quase um deles. Quase.
Essa mudança significou a sua salvação?
Salvação é uma palavra muito grande. Eu senti a satisfação de libertar-me da gravidade do mundo dos meus pais. Agora sei que não passou de uma ilusão. Olhe à sua volta: estou num quarto cheio de livros e escrevo livros, exatamente o que omeu pai queria que eu fizesse. No fim, percebo com ironia que cada revolução tende a ter um movimento circular. Porém, continuo a discordar com o meu pai politicamente. Discutimos sobre política todos os dias. E ele morreu há mais de 40 anos! A conclusão é que não podemos fugir à nossa herança. Podemos enriquecer as nossas vidas. Não podemos nascer de novo.
Disse ser filho de "refugiados indesejados". Como é que isso o marcou?
Marcou-me profundamente. Sou filho de europeus que foram violentamente rejeitados pela Europa. Hoje, isso não é uma questão, todos podem ser europeus. Mas há 80 ou 90 anos, os únicos verdadeiros europeus eram os judeus laicos, como os meus pais e avós. Eles não eram patriotas russos, polacos, ucranianos ou lituanos - eram europeus. Sabiam línguas - o meu pai lia em 17 línguas e falava 11; a minha mãe dominava seis -, conheciam as tradições culturais e admiravam a herança da Europa, as artes, a música, as paisagens. E foram chutados. Teriam ficado se os tivessem deixado, mas o antissemitismo tornou-se fisicamente violento. Se não fugissem nos anos 30 seriam assassinados nos anos 40. Então vieram para Jerusalém, onde tentaram criar um pequeno enclave europeu, com bibliotecas, concertos, cafés... Eu era um miúdo, e eles costumavam dizer: "Um dia, Jerusalém vai ser uma cidade a sério." E para mim esta era a única cidade a sério! Telavive era uma fantasia exótica. Hoje, sei que quando eles diziam isso evocavam uma cidade atravessada por um rio e pontes entre as margens. Isto chama-se amor frustrado, não retribuído.
Mas só lhe ensinaram hebraico.
Tinham uma razão forte para isso nos anos 40. Temiam que, se eu soubesse pelo menos uma língua europeia, pudesse ser seduzido pelo charme mortal da Europa.

ATTILA KISBENEDEK/ Getty Images
Eu era um miúdo durante o cerco a Jerusalém, combati em 1967 e depois em 1973, nos montes Golan. Vi o monstro demente que a guerra é e como a guerra nos transforma noutra coisa... Mas nunca consegui escrever sobre a guerra. Nunca encontrei uma forma de transmitir a experiência do campo de batalha, que é sobretudo cheiro, fedor, corpos humanos a descompor--se, metal queimado. Nunca encontrei a forma de expressar isto em palavras. Talvez um dia.
Mas descreveu o que foi ter a guerra na sua própria casa, aos 9 anos.
Vivíamos num apartamento na cave, em Jerusalém, e muitos dos vizinhos ficaram connosco, para se protegerem dos bombardeamentos. O apartamento era pequeno como umsubmarino e nessa altura albergou mais de 20 pessoas durante semanas. Toda a gente dormia no corredor, por ser mais seguro do que os quartos. Quando as pessoas têm medo, exalam um cheiro particular. Ainda sinto esse odor.
"Uma História de Amor e Trevas" foi o seu processo de paz? Porque é que o escreveu?
Durante muitos anos estive extremamente zangado com a minha mãe por se ter suicidado. Estava zangado com o meu pai por tê-la perdido. E comigo próprio porque pensava que, se tivesse sido um bom menino, ela teria ficado entre nós. Estava tão zangado que durante anos não falei sobre a minha família. Quando casei e formei uma nova família, não falei com ela sobre a antiga. Cortei-a da minha vida, como uma página indesejada numa enciclopédia soviética. Mas, com o tempo, a raiva acalmou. E no seu lugar surgiu a curiosidade, a compaixão e o humor. Assim pude escrever "Uma História de Amor e Trevas". Escrevi-o como se eu fosse o pai dos meus pais. Tinha 60 anos, e a minha mãe morreu aos 38. Portanto, podia ser o pai dela.
Pode falar-nos do percurso de escrita deste livro, considerado a sua melhor obra?
Levou à volta de seis anos, o que não é exato, pois num certo sentido andei a escrevê-lo ao longo de toda a minha vida. Tive muitos problemas com a estrutura, que não é cronológica mas move-se em círculos, sempre em torno da morte da minha mãe. Tive dificuldades com as modulações, com as transições, desde o nascimento de Israel às cenas privadas familiares... Mas, se tivesse contado a história cronologicamente, o resultado teria sido um mau livro.
Sei que não gosta de lhe chamar autobiografia...
É um conto [tale]. Não é uma autobiografia, pois nem sequer é sobre mim, mas sim sobre a minha família. O conto é uma forma literária muito antiga, é o que os nossos ancestrais diziam uns aos outros nas cavernas, à volta da fogueira, antes de saberem escrever.
As suas memórias do cerco podiam ser as de uma criança de Gaza. Quando começou a pensar no que se passava do outro lado?
Houve uma figura do kibutz Hulda, Ephraim Avneri, que me abriu os olhos. Antes disso, quando vivia com o meu pai, pensava no outro lado como o inimigo: os árabes eram as pessoas empenhadas em matar-nos. Eu nasci e vivi dentro de um conflito e, nestes casos, temos tendência para tomar partido. É o que a maioria das pessoas faz. Ephraim ajudou-me a não ver o mundo a preto e branco, mas também contei com aminha curiosidade, com a capacidade de perguntar: "Como me sentiria se fosse palestiniano? Ou refugiado em Gaza?" Isto fez-me ser pró-palestiniano e perceber a complexidade da situação.

Durante um protesto
JACK GUEZ/ Getty Images
Fima tende a exagerar. Não penso que não haja um só pedreiro judeu no país, mas ele aponta um problema: desde a ocupação da Cisjordânia e de Gaza, em 1967, beneficiamos de trabalho estrangeiro para as tarefas menos qualificadas. É um fenómeno universal, que também acontece aqui. Quanto à segunda questão de Fima, a resposta é não. Não há no palco da História quem tenha as mãos completamente limpas.
Mas se o Amos Oz se tornou ativista [cofundou em 1978 omovimento Peace Now] é porque acredita que se pode sujar menos as mãos...
É uma boa perspetiva. Não acredito que seja possível a um país ser um santo. Mas é possível alcançar a paz entre Israel e os palestinianos. E a paz não será o começo de uma lua de mel, o paraíso na terra. Se acontecer, será um compromisso, e um compromisso nunca é feliz. Os idealistas odeiam a palavra compromisso, mas para mim é sinónimo de vida. O oposto de compromisso não é idealismo ou integridade, é fanatismo e morte. Voltei da Guerra dos Seis Dias convicto de que a guerra é insana, mas não me tornei um perfeito pacifista. Não o sou.
Define-se, aliás, como um peacenik e não como um pacifista. Qual é a diferença?
Para um pacifista, o pior mal é a guerra. Para mim, é a agressão. E a agressão, por vezes, tem de ser travada pela força. Uma tia minha que morreu há uns anos e foi sobrevivente do campo de Theresiendstadt disse uma frase que nunca vou esquecer: "Nós fomos libertados não por manifestantes com cartazes mas por soldados com armas."
Disse que não se arrependia de ter lutado naquelas duas guerras, por ser uma questão de vida ou de morte, mas afirmou que preferia ir para a prisão se o forçassem a lutar noutras.
Israel travou uma guerra no Líbano, nos anos 80. E eu teria ido sem problemas para a prisão em vez de lutar no Líbano. Jamais lutaria por mais um bocado de território, por recursos, por locais sagrados ou pelo chamado "interesse nacional".

ZOOM 77/ Getty Images
Em relação aos colonatos, tenho uma posição muito clara: são e foram sempre um erro moral e político. Israel não deveria ter construído uma única casa nos territórios ocupados. A solução dos dois Estados é inevitável. Por uma razão simples: nem os palestinianos nem os israelitas têm outro lugar para onde ir. Não se podem tornar uma família feliz, porque não são uma família nem são felizes. São duas famílias infelizes. Precisam de um divórcio justo, de dividir a casa em dois apartamentos separados.
Isso parece estar cada vez mais longe.
Deixe-me recordar-lhe uma coisa: há oito anos, o primeiro--ministro Ariel Sharon evacuou dezenas de milhares de colonos judeus de Gaza em 48 horas. Não estou a sugerir isso para a Cisjordânia. O que sugiro é que a solução não é impensável e que as coisas não são imutáveis. Provavelmente, haverá uma solução mais leve para os colonos na Cisjordânia, alguns ficarão como cidadãos palestinianos ou como israelitas residindo no Estado palestiniano. Não podem é estar lá como senhores. Os dois lados sabem que esta é a solução. O problema é que ambos os pacientes estão prontos para a cirurgia mas osmédicos são cobardes.
Como resolveria o problema dos refugiados e de Jerusalém?
Jerusalém será a capital de Israel e da Palestina. Vai ser doloroso, mas nós, judeus, não estamos sozinhos no país. Sobre os refugiados palestinianos, devem ser realojados no futuro Estado da Palestina, não nas suas antigas casas em Israel, porque senão haverá duas Palestinas e nenhum Israel. É algo amargo de aceitar, mas lembro que mais de um milhão de judeus foram expulsos dos seus países. Não é o mesmo que perder a vida.
Tem sido crítico do papel da Europa face ao conflito israelo-palestiniano.
Os europeus simplificam a situação. Dividem tudo em bons e maus, agendam uma manifestação a favor dos bons, assinam uma petição contra os maus e vão dormir descansados. Mas isto não é a preto e branco. O conflito israelo--palestiniano é um choque entre o certo e o certo, por vezes entre o errado e o errado. Recordo que tanto os árabes quanto os judeus foram vítimas da Europa. Os árabes através do imperialismo e da exploração, os judeus através da perseguição e do assassínio em massa. O que temos aqui é umconflito entre duas antigas vítimas da Europa.

Dan Porges/ Getty Images
Sinto ambivalência. Por um lado, estou preocupado com a Europa. Tenho simpatia pelo esforço de criar uma Europa unida. Por outro lado, não consigo evitar o sentimento de raiva ao ver a atitude da Europa face a outras partes do mundo. Estive na Alemanha muitas vezes e tenho lá muitos bons amigos. Mas as noites são difíceis para mim. Tenho sempre problemas para dormir na Alemanha.
Paul Auster disse-me que escrever não é trabalho para gente normal, que é preciso estar-se danificado para escrever...
É preciso cortar-se do mundo, não falar com ninguém, não ver ninguém...Durante muitas horas do dia estou rodeado de fantasmas. Falo como eles, ouço-os, negoceio com eles... Por isso concordo: não é um trabalho para gente normal.Mas quando acabo de escrever vão-se embora. Nunca releio os meus livros.
Qual foi o livro mais duro de escrever?
Um que ainda me surpreende é "OMesmo Mar". Está escrito em verso. Olho para ele como para uma vaca que deu à luz uma gaivota. É demasiado bom, acima do meu nível.
Pode a escrita ser um fardo?
Totalmente. É um trabalho duro. Se escrevo um romance com 55 mil palavras, tenho o mesmo número de decisões a tomar. Cada palavra é uma luta.
Tem 74 anos, mais nove do que o Estado de Israel. Costuma pensar na morte?
Todos os dias. Na morte e nos mortos. Como diz, tenho 74 anos, e a maioria das pessoas que conheci já cá não está. Penso nela porque não está assim tão longe.
https://expresso.sapo.pt/cultura/2018-12-28-Amos-Oz-1939-2018-Penso-na-morte-todos-os-dias.Penso-nela-porque-nao-esta-assim-tao-longe?fbclid=IwAR0R43hm_l6rRJlIjDHh_LNm9uIeJfNE-HdeVpGls0eJWzB7-hAGCtdED2g
***